Participação no canal de YouTube “História do Brasil como você nunca viu”.
Tag: Rio Branco
Matéria jornal “Opção” 20 de abril de 2023
Conheça a grande história do barão cuja morte parou o carnaval do Rio de Janeiro
Conheça a grande história do barão cuja morte parou o carnaval do Rio de Janeiro
José Maria da Silva Paranhos Jr., o Barão do Rio Branco, pode até não ser muito conhecido. Mas ajudou muito o Brasil a ser o que é: uma potência
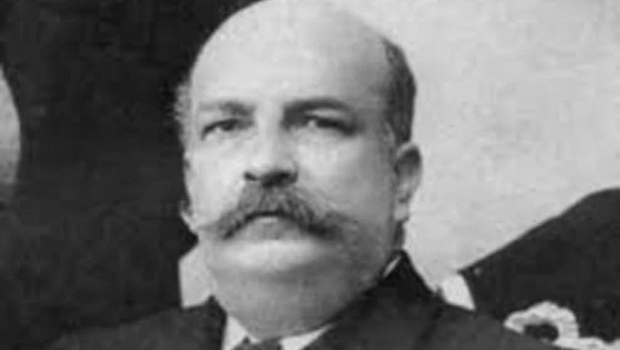
Eu admiro muito as pessoas que são muitas ao longo da vida que atuam com destaque em muitas áreas.
Jose Maria da Silva Paranhos Júnior é uma delas. Ele foi advogado, jornalista, geógrafo, historiador e diplomata. Até cédula ele já foi. Seu rosto estampou a cédula de 1 mil cruzeiros.
Mas o que fez José Maria da Silva Paranhos Junior ser reconhecido aqui e lá fora foi a sua atuação como diplomata? Ele se destacou nesta área quando o Brasil era Monarquia e também quando virou República.
O Barão de Rio Branco conseguiu impor seu título de nobreza num governo republicano. Ele nasceu em 20 de abril de 1845 e, em sua homenagem, seu aniversário natalício virou o Dia do Diplomata.
Quando olhamos o mapa do Brasil, vemos a grandeza do nosso território e também suas fronteiras terrestres. Do Amapá até o Sul do Brasil, as linhas divisórias do mapa foram traçadas pelo Barão de Rio Branco.
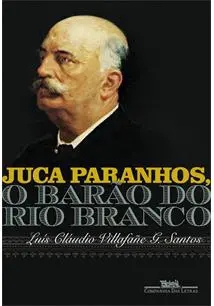
Em disputas resolvidas em cortes europeias, o Barão do Rio Branco conseguiu defender a causa brasileira.
Eu me lembro de ler um livro que a Editora Três lançou já faz algum tempo traçando um perfil biográfico do barão. A cada retorno da Europa após ganhar a disputa territorial para o Brasil, Paranhos era esperado no porto do Rio de Janeiro com festa. O povo reconhecia o seu esforço em defender as fronteiras brasileiras.
O carnaval de 1912 foi adiado porque o Barão de Rio Branco morreu 11 de fevereiro daquele ano, no meio dos festejos. Para se adiar uma festa popular é porque a pessoa que morreu era muito importante e contribuiu para o país sendo reconhecido pelo povo. Até chegar o coronavírus, só o Barão de Rio Branco.
Consta que o livro sobre o grande personagem da história brasileira é “Juca Paranhos — O Barão do Rio Branco” (Companhia das Letras, 554 páginas), do diplomata e historiador Luis Claudio Villafane Gomes Santos. O livro é comentando, abaixo, pelo grande pesquisador Alberto da Costa e Silva.
Leia o que Alberto da Costa e Silva diz do Barão do Rio Branco
“O Barão do Rio Branco de nossa admiração não esconde o amante egoísta, o vaidoso que alimentava a claque de seu teatro pessoal, o centralizador que desmerecia a ajuda dos colaboradores, o sedento de glória, o glutão e o esbanjador para quem todo dinheiro era pouco.
Reexaminando o muito que se escreveu sobre o barão, assim como a sua correspondência ativa e passiva, e lendo, dia a dia, linha a linha, o que, na época, estampavam os jornais, Luís Cláudio Villafañe G. Santos trouxe para a nossa companhia um Rio Branco confiante no forte saber que lhe moldava os argumentos e as ações.
“E tão bem contada é a sua vida e tão nítidos os retratos, que ele sai deste livro, nos toma pelo braço e nos convida para jantar no Hotel dos Estrangeiros.”
Conversa com o Professor Marco Antônio Villa sobre as biografias do barão do Rio Branco e de Euclides da Cunha
Resenha de “Juca Paranhos: o barão do Rio Branco”, publicada na Revista do IHGB
O DESAFIO RIO BRANCO: O BARÃO POR UMA NOVA PERSPECTIVA BIOGRÁFICA1
Elisabeth Santos de Carvalho2
A narrativa predominante sobre a história de vida de José Maria da Silva Paranhos Junior, o barão do Rio Branco, apresenta a trajetória do filho de um estadista do Império, estudioso, que abdicou da vida pessoal em função dos interesses nacionais, e que foi enaltecido pelas vitórias dos litígios do território nacional. Feito narrado como um milagre e que, afinal, garantiu o posto mais alto na carreira diplomática. O enredo procura valorizar os esforços do personagem, ressaltando a figura do intelectual dedicado às pesquisas em arquivos europeus e, posteriormente, ao trabalho em seu gabinete no Itamaraty.
Da extensa bibliografia a sobre Rio Branco destacam-se, primeiramente, dois projetos biográficos. Em 1945, ano das comemorações do centenário de seu nascimento, foi lançado o livro de Álvaro Lins, Rio-Branco: (o barão do Rio Branco) 1845-19123. Obra encomendada pelo Ministério das Relações Exteriores, foi pioneira na ampla utilização dos arquivos históricos da instituição. Passados alguns anos, em 1959, Luiz Viana Filho, biógrafo de grande projeção entre a crítica literária de seu tempo, lançou A vida do barão do Rio Branco4. Consolidadas como suas principais biografias, correspondem a um contexto similar de produção biográfica5.
Em um novo contexto, tendo desfrutado de amplo debate sobre a escrita biográfica e as relações com a produção historiográfica, Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos6 publicou, em 2018, Juca Paranhos, o barão do Rio Branco7, obra que reúne mais de dez anos de pesquisa do diplomata e historiador. Como revela no prefácio, o projeto biográfico não estava nos seus planos, mas os desdobramentos de publicações anteriores acabaram por aproximá-lo, cada vez mais, do personagem. Ainda que o barão não fosse seu principal objeto de estudo, alguns de seus trabalhos tangenciam temáticas relacionadas a Rio Branco. De forma sucinta, ainda no prefácio, analisa a bibliografia sobre o barão, destacando as biografias anteriormente mencionadas como as obras de maior fôlego sobre o chanceler.
Em Juca Paranhos o olhar de Luís Cláudio Villafañe está centrado na trajetória pessoal e na obra política do barão, preocupado em superar uma escrita laudatória e linear, onde nuances e complexidades do indivíduo são eclipsadas. Para tanto, o estudo de Pierre Bourdieu A ilusão biográfica8 é uma das referências do autor. Bourdieu critica a ideia de se construir um relato de vida, tentando forjar uma dinâmica de início-meio-fim, para uma realidade que é descontinuada, aleatória. Defende que o único vínculo entre os fatos selecionados é o sujeito, que, aliás, de constante, tem apenas o nome próprio que lhe é atribuído. Como Villafañe imprime no título do livro, nem o nome próprio é constante na trajetória do seu personagem, afinal, José Maria da Silva Paranhos Junior, o Juca Paranhos, ganhou glória e posteridade como o barão do Rio Branco, chegando a ser reconhecido apenas como o Barão.
Organizado em três partes, o livro inicia pela configuração da família Paranhos, passando pelos anos de formação e eventos da trajetória do jovem Juca, que se moldava à sombra do pai, o visconde do Rio Branco, e segue até o conturbado episódio do seu ingresso no corpo diplomático em 1876. A segunda parte, dedicada aos vinte e seis anos que esteve na Europa, acompanha o início da sua carreira, com as incertezas e inquietações de um monarquista no pós 1889, e com o pragmatismo e a articulação que foram necessários para lidar com o novo cenário e garantir o posto, que era fundamental para a manutenção da família. Por fim, os casos de arbitragem internacional como momento de redenção.
A última parte do livro corresponde ao período que esteve à frente do Ministério das Relações Exteriores, partindo dos desafios de retornar ao Brasil e lidar com uma política interna diferente da que conhecera, dando continuidade às questões de fronteiras que acabam por cruzar alguns capítulos. O autor chama a atenção para interpretações políticas nem sempre precisas, e para a elaboração da agenda da política externa em seu tempo, demonstrando as relações com processos políticos e com a potência da narrativa articulada em seus textos, até que, nos damos conta de ter acompanhado a construção do personagem por uma nova perspectiva. O breve apontamento sobre a organização do livro, pretende sinalizar que, além das curiosidades e histórias contadas pelo autor, a biografia de Rio Branco permite analisar diferentes aspectos de uma época.
Ainda que o percurso temporal demarque as três partes do livro, nota-se que não são construídas meramente como uma sucessão de fatos. Ao longo dos trinta capítulos, as nuances ganham destaque, assim como novas reflexões sobre aspectos consolidados da personalidade e da trajetória do barão. O herói nacional, reverenciado por muitos biógrafos, permanece no seu texto, mas ponderações e críticas ganharam espaço com Villafañe. A suposta autonomia irrestrita de Rio Branco é posta à prova, assim como é questionada a existência de uma “aliança não escrita”9 entre o Brasil e os Estados Unidos, naquele período. Deve-se observar como o autor, trabalhando predominantemente com as mesmas fontes e a partir da releitura de obras que compõem a bibliografia sobre o tema, busca desconstruir alguns mitos criados em torno do barão e traz certa provocação à produção acadêmica, muitas vezes alinhada a esses discursos.
Nesse sentido, contra a ideia de que Rio Branco esteve isolado na Europa desde sua nomeação para o consulado em Liverpool, o autor articula um vasto conjunto documental para demonstrar que o barão utilizava seu capital intelectual contra o regime instituído no 15 de novembro, e que ele empenhou “esforço sistemático para se aproximar de autoridades republicanas10”. Para sobreviver no momento de alteração do regime político foi necessário saber os limites da sua exposição e posicionamento. Através de uma delicada articulação conseguiu se manter durante os anos do início da república sem estabelecer desagrados em nenhum dos lados, transitou discretamente entre diferentes grupos, ora entre os amigos monarquistas de longa data, ora entre os republicanos da situação. Como demonstra Villafañe, as manobras de Rio Branco ficaram registradas pela sua correspondência com diferentes personalidades e pelos artigos que publicava protegido por pseudônimos.
Da mesma forma, contesta a versão consagrada sobre a sua nomeação para a defesa do caso de Palmas. A designação seria fruto do dito “esforço sistemático”, longe de ter sido recebido com surpresa por Juca Paranhos. Naquele momento, a novidade era apenas para a população que pouco conhecia o barão do Rio Branco, o contexto da jovem república estava impregnado de amigos do tempo saquarema e novos amigos com os quais vinha estabelecendo laços no novo regime.
O laudo favorável ao Brasil, na disputa com a Argentina, lançou seu nome para além das redes reveladas por sua correspondência e dos círculos de brasileiros residentes em solo europeu. A partir desses eventos o nome de Rio Branco teve notável projeção na imprensa brasileira, tornando-se conhecido e reconhecido, pelo grande público como o defensor do território nacional.
A intensa troca epistolar analisada pelo autor permite ainda outras reflexões. A crença de que a política externa deve se manter independente da política interna é um aspecto marcante do discurso de Rio Branco, mas que não corresponde à atuação registrada na sua correspondência. Participando desses círculos, o barão sempre esteve envolvido com membros de governo e, quando esteve à frente do Ministério, dependia de intensa articulação política para sua condução. A forma como o autor aborda e explica o cenário da aprovação dos tratados de definição de fronteiras ilustra muito bem a questão.
Ao analisar cartas, discursos e artigos que Rio Branco enviava constantemente aos jornais, Villafañe chama atenção para o caráter dessas fontes como “escritas de si”, onde o próprio barão define aspectos da narrativa construída sobre o personagem. Além de tirar da passividade as designações para a defesa das questões de Palmas e do Amapá, o autor observa o teor das cartas do período da nomeação para o Ministério, e o tom ditado por Rio Branco, de que ele, depois de muito hesitar, aceitaria o cargo em sacrifício próprio. Versão repetida por muitos de seus contemporâneos e articulada à imagem do mito político, inclusive na escrita biográfica.
O aspecto heroico da figura de Rio Branco, aparece de maneira mais transversal no livro de Villafañe. O reconhecimento do seu legado não é transposto em reverência incondicional. Em publicação anterior O evangelho do barão: Rio Branco e a identidade brasileira, de 201211, Villafañe intitulou seu último capítulo de “Os milagres do Barão”. Ao tratar dos “milagres”, o autor articula a atuação de Paranhos antes e ao longo do Ministério, suas vitórias, a repercussão e, por fim, a construção da ideia eternizada do patrono do Itamaraty e a representação como um dos “santos do nacionalismo”. A referência a uma sacralização de Rio Branco está presente também na capa do seu livro O dia em que adiaram o carnaval: política externa e a construção do Brasil, publicado dois anos antes12. Nela é reproduzida uma imagem do vitral da National Cathedral de Washington, também conhecida como a Catedral das Américas, onde o barão aparece ao lado de Simón Bolivar e San Martín.13
Para o autor, a longevidade do mito político de Rio Branco reside na grandiosidade de sua obra articulada à construção de imagem e narrativa que lançaram as bases para sua permanência. Refutando o caráter mítico da adoração popular, que acaba reproduzida em muitos textos biográficos, discorre sobre excessos e elementos que contribuíram para longevidade do mito político.
Assim contesta que a política externa, ainda hoje, seja formulada em seus moldes. Rio Branco e seu legado, são sim reivindicados pelo valor histórico e transformador do seu projeto para o Itamaraty. Sua importância para a história da instituição ainda é insuperável, mas as circunstâncias do concerto internacional diferem do seu contexto, são outras demandas que hoje movimentam o corpo diplomático. Deste modo, foca a visão pragmática, desbancando o heroísmo alardeado que acompanhou desde pequenas notas nas cadernetas do barão até pistas na sua correspondência e registros de banco, para expor em números como, muitas vezes, sua posição era ponderada por necessidades financeiras.
Apresenta mais do que o “definidor das fronteiras”, mas um articulador de narrativas, fruto de um processo intelectual e político. Villafañe delineia um Rio Branco criador de narrativas, que, para além de seus escritos, estão associadas aos círculos e instituições de produção intelectual, onde suas ideias desfrutavam de grande espaço e prestígio. Narrativas, relacionadas com as suas permanências, que foram incorporadas pela diplomacia e pouco questionadas no meio acadêmico.
Diante da variedade de episódios, temas e histórias que compõem a biografia de Rio Branco, destacamos alguns aspectos que estão no centro das análises e debates desenvolvidos no livro. As relações entre imprensa e poder, ao lado da alteração do eixo diplomático, ou da imagem do Brasil que Rio Branco buscou promover na sua gestão, estão entre os temas que merecem a atenção do leitor. A atuação do barão na imprensa, e, de modo mais amplo, sua relação com a imprensa, perpassa todas as três partes do livro. Com destaque para o alinhamento do Jornal do Commercio, tendo a proximidade entre Rio Branco e José Carlos Rodrigues como peça-chave, e a crítica feroz do Correio da Manhã, com a figura de Edmundo Bittencourt.
Nas linhas de Villafañe uma escrita fluida, sem os excessos das notas de rodapé, se dirige a um público maior. Ficamos atentos à forma como apresenta dados, conta histórias e constrói a sua história. A partir dos seus textos podemos observar um pouco do percurso intelectual do autor, e ao olharmos especificamente a composição das capas dos seus livros fica evidente que podemos esbarrar com diferentes “barões do Rio Branco”. Depende do olhar, da escala utilizada, do foco ajustado. Passamos pela imagem sacralizada no vitral, por uma caricatura de revista até uma pintura a óleo do perfil, quase fotográfico, de Rio Branco.
As interpretações são diversas, até aquelas que se pretendem mais próximas à realidade são representações desse real, e por mais exaustivas que se apresentem não esgotam as possibilidades, porque, afinal, falar em biografias, é falar em “histórias inacabadas14”.
1 – Menção ao termo “desafio biográfico” presente na obra DOSSE, François. O Desafio biográfico: escrever uma vida. São Paulo: Edusp, 2015.
2 – Doutoranda em História Política pela UERJ. Email:scarvalho.eliza@gmail.com.
3 – LINS, Álvaro. Rio-Branco: (o barão do Rio Branco) 1845-1912. Rio de Janeiro: José Olympio. 1945. 2 v.
4 – VIANA FILHO, Luís. A vida do barão do Rio Branco. Rio de Janeiro: José Olympio,1959.
5 – Sobre o contexto de produções biográficas no Brasil dos anos 20 até a década de 1950 e sobre a concepção de “biografia moderna”, ver GONÇALVES, Marcia de Almeida. Em terreno movediço. Biografia e história na obra de Octávio Tarquínio de Sousa. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2009.
6 – Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos é diplomata de carreira e historiador. Embaixador do Brasil na Nicarágua. Atualmente é pesquisador associado ao Observatório das Nacionalidades (Fortaleza), sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro desde 2012 e da Academia de Geografía e História de Nicarágua desde 2017.
7 – SANTOS, Luís Cláudio Villafañe Gomes. Juca Paranhos: o barão do Rio Branco. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.
8 – BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, Marieta de Moraes e AMADO, Janaína (Orgs.). Usos e abusos da história oral. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1998, p. 183-192.
9 – Referência ao termo “unwritten aliance” difundido a partir da publicação do ensaio BURNS, E. Bradford. The unwritten aliance: Rio-Branco and Brazilian-American relations. New York: Columbia University Press, 1966.
10 – SANTOS, op. cit., p. 477.
11 – SANTOS, Luís Cláudio Villafañe Gomes. O evangelho do barão: Rio Branco e a identidade brasileira. São Paulo: Editora UNESP, 2012.
12 – SANTOS, Luís Cláudio Villafañe Gomes. O dia em que adiaram o carnaval: política externa e a construção do Brasil. São Paulo: Editora UNESP, 2010. 13 – Ibidem., p. 17-18.
14 – Em referência à colocação de Paul Ricoeur de que escrever uma vida seja uma história inacabada, ver RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas[SP]: Editora da Unicamp, 2007, p. 657.
- IHGB, Rio de Janeiro, a. 182 (485):439-446, jan./abr. 2021.
Resenha do livro “Juca Paranhos” na revista “Tempo” da UFF
Resenha do livro “Juca Paranhos, o barão do Rio Branco” na revista “Tempo” da Universidade Federal Fluminense
Por Rodrigo Goyena Soares
Tempo vol.25 no.2 Niterói jun./ago. 2019
versão impressa ISSN 1413-7704versão On-line ISSN 1980-542X
O interno e o externo: o barão do Rio Branco revisitado
Domestic and foreign affairs: the baron of Rio Branco revisited
RESUMO:
Patrono da diplomacia brasileira, o barão do Rio Branco permanece unanimemente celebrado em discursos oficiais do Itamaraty ou, inclusive, em textos acadêmicos. Esta nova biografia do barão, escrita pelo diplomata e historiador Luís Cláudio Villafañe G. Santos, rediscute não apenas a personalidade de Rio Branco, assinalando contradições, mas, sobretudo, reinterpreta sua ação diplomática à frente do Ministério das Relações Exteriores. Particularmente, interessa a esta resenha discutir três temas amplamente tratados por Villafañe: a interdependência entre política interna e externa, o estabelecimento de uma – suposta – aliança não escrita com os Estados Unidos e a resolução pacífica das disputas lindeiras.
Palavras-chave: Barão do Rio Branco; Itamaraty; Política externa republicana
The Baron of Rio Branco, patron of the Brazilian diplomacy, remains unanimously acclaimed in Brazil’s foreign office, the Itamaraty, or even in academic books. This new biography of the Baron, written by Luís Cláudio Villafañe G. Santos, a Brazilian diplomat and historian, not only reexplores the personality of Rio Branco, pointing out contradictions, but mainly reinterprets his diplomatic agency when in office. It is in the interest of this review to discuss three topics broadly analyzed by Villafañe: the interdependence between domestic and foreign policies, the establishment of an allegedly unwritten alliance with the United States and the peaceful resolution of frontier disputes.
Keywords: Baron of Rio Branco; Itamaraty; Foreign policy of the Brazilian Republic
Não são poucas as anedotas que fizeram de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o barão do Rio Branco (1845-1912), um personagem festejado de maneira praticamente unânime pela historiografia. Feito raro para um diplomata, a considerar que seus homólogos de maior prestígio – tais como Duarte da Ponte Ribeiro (1795-1878) e Paulino José Soares de Sousa (1807-1866), à época do Império; ou Oswaldo Aranha (1894-1960), San Tiago Dantas (1911-1964) e Azeredo da Silveira (1917-1990), na República – costumam figurar apenas tangencialmente na história dos grandes acontecimentos nacionais. Estudioso compulsivo da formação lindeira do Brasil, o barão do Rio Branco, pelo que conta a história, tinha nos mapas um pêndulo que ritmava sua vida política e biológica. Quando já velho e debilitado pelo consumo exagerado de tabaco e por uma alimentação tanto desequilibrada quanto irregular, era surpreendido por rotineiras visitas médicas, adormecendo nos volumes cartográficos que, pelo resto, consolidavam sua glória. “Ontem à noite, quis examinar mais de perto os pormenores de um mapa que desenrolei no chão e acabei por dormir em cima dele” (apud Lins, 1945, p. 622), teria dito o paciente, ainda despertando, a um médico cada vez mais preocupado.
No cotidiano das ruas, o barão teria gozado de igual prestígio. Não há capital brasileira que não carregue ao menos uma avenida, rua ou beco com o nome de Rio Branco. Quiçá de forma ainda mais expressiva, não houve presidente qualquer capaz de demover o povo brasileiro de sua principal celebração nacional, qual seja, o carnaval. Sequer nos difíceis anos de Arthur Bernardes (1922-1926), do Estado Novo (1937-1945) ou da ditadura escancarada (1968-1974) a proeza foi alcançada. Nisso Paranhos também teve êxito. Ou quase, porque, embora sua morte, em fevereiro de 1912, tenha levado o governo de Hermes da Fonseca (1910-1914) a postergar o reinado de Momo para meados do ano como manifestação de pesar nacional, a população não resistiu, e dois carnavais foram comemorados em um semestre apenas. De todas as formas, o quase feito terminou sendo um duplo feito.
A biografia de Paranhos escrita pelo diplomata e historiador Luís Cláudio Villafañe G. Santos apresenta um personagem diferente. Sem minimizar a importância do barão para a política externa brasileira, emerge das páginas de Villafañe um Rio Branco múltiplo, porque a um só tempo Juca, José Maria, Paranhos, Júnior e Barão. A enumeração de nomes ou apelidos não se presta apenas no sentido das fases biológicas do personagem, que o fizeram transitar de um Juca boêmio para um José Maria bacharel, a um Paranhos deputado e, em seguida, Júnior, porque agora diplomata, porém sob a silhueta de seu pai, o visconde do Rio Branco (1819-1880), para final e paradoxalmente ser um barão na República. Quando assumiu em 1902 a chancelaria, que ganhara havia pouco o nome de Itamaraty em referência ao palácio que passou a albergá-la, Rio Branco acumulava vasta experiência. Nesse sentido, a narrativa fundamentalmente cronológica de Villafañe, permeada por um ou outro flashforward cinematográfico, expressa, antes de mais nada, uma acumulação de práticas e saberes do biografado, não sem as respectivas contradições, hesitações e sombras do passado. A divisão da obra em três partes – “Juca Paranhos na sombra do pai (1845-1876)”, “A redenção do boêmio (1876-1902)” e “Um saquarema no Itamaraty (1902-1912)” – sugere esse acúmulo linear somente em aparência. Dá-se, então, um barão mais incoerente, vaidoso, obsessivo, ansioso e por vezes cabeça-dura do que aquele dos textos largamente mais hagiográficos de Álvaro Lins (1945) e de Luís Viana Filho (1959).
Afora a revisão sobre a personalidade do barão, as principais contribuições historiográficas – discutidas na terceira e última parte da obra – dizem respeito ao tempo do barão na chefia do Ministério das Relações Exteriores. Villafañe concede especial ênfase a três temas: a interdependência entre política interna e externa, o estabelecimento de uma – suposta – aliança não escrita com os Estados Unidos e a resolução pacífica das disputas lindeiras. São essas as discussões que nos interessam sobremaneira nesta resenha.
Em vez de insistir na oposição entre políticas interna e externa, Villafañe funde-as, vislumbrando a ação diplomática como política pública, cujos entrelaçamentos com os eventos domésticos a explicam, causam e condicionam. De entrada, portanto, há uma revisão pela forma e pelo conteúdo da historiografia diplomática, que, a maneira de textos clássicos, como o de Amado Cervo e Clodoaldo Bueno (2008) ou do mais antigo Delgado de Carvalho (1959), tende a isolar o Itamaraty das tensões políticas internas. Nisso, Villafañe assemelha-se à posição de Rubens Ricupero, marginalmente na rápida biografia do barão que este também escreveu e substancialmente na recente obra sobre o lugar da diplomacia na formação nacional (Ricupero, 2000, 2017). Assim, e para citar apenas alguns exemplos, o barão de Villafañe não conduziu um Itamaraty ausente dos traumas causados pela campanha civilista de Rui Barbosa (1909-1910) ou pela Revolta da Chibata (1910), e foi ativo, em uma chave mais propositiva do que reativa, em seu relacionamento com chefes partidários de magnitude nacional, como Pinheiro Machado.
Se não há negação ontológica entre políticas externa e interna, tampouco haveria, nas ponderações de Villafañe, um Itamaraty autônomo em relação ao governo. O espírito corporativo do ministério, malgrado sua irrefutabilidade, não o tornaria responsável somente perante suas idiossincrasias. Pelo contrário, e em especial na gestão Rodrigues Alves (1902-1906), o barão esteve longe de ter independência decisória na condução da política externa, inclusive no que se refere a assuntos burocráticos do ministério. Particularmente problemática foi a condução das negociações de limites com a Bolívia, que resultou na assinatura do Tratado de Petrópolis (1903). As concessões feitas pelo barão – nomeadamente, o pagamento de 2 milhões de libras, a construção da ferrovia Madeira-Mamoré e a cessão de pequena parcela territorial -, de forma a angariar a posse de um território também disputado, pelo menos em parte, pelo Peru, teriam sido excessivas no olhar de seus principais desafetos. O tratado, ao qual o barão vinculou, mais à frente, uma áurea de completa vitória, poderia ter ido a pique caso a negociação com o Peru não tivesse sido exitosa. As tratativas com Lima tardaram pouco mais de cinco anos e quase empurraram o Rio de Janeiro para uma guerra de resultados incertos. Como se não bastasse, o sucesso alcançado com o Peru deveu-se a fatores exógenos ao Brasil, visto que dependia do laudo arbitral da rival Argentina sobre a fronteira entre o Peru e a Bolívia. Não à toa, a trama que conduziu à assinatura e à ratificação do Tratado de Petrópolis contemplou desentendimentos entre os negociadores brasileiros, como também resistências da imprensa e do governo ao barão do Rio Branco.
Do ponto de vista teórico, e ampliando a discussão sobre a autonomia do Itamaraty na sucessão de governos que marcou a gestão barão e sobre o lugar da chancelaria no tipo de Estado que caracterizou o Brasil da Primeira República, Villafañe não identifica Rio Branco a uma mera expressão dos interesses econômicos dominantes à época, malgrado as irrefutáveis interdependências. Para reabilitar uma antiga discussão metodológico-política da década de 1960, o autor coaduna-se com a interpretação de Nicos Poulantzas (1968), segundo a qual o Estado detém autonomia relativa, agregando-se às contradições de uma restrita pluralidade de classes ou frações de classe economicamente preponderantes, e não forçosamente sucumbindo a uma classe apenas, homogênea e hegemônica. A distinção entre governo e Estado não poderia ser mais importante nesse diapasão. O Itamaraty, indissociável do governo, somente agiria dentro de constrangimentos estruturais impostos pelo tipo de Estado oligárquico constituído especialmente com a presidência de Campos Sales (1898-1902). No concreto, o barão não teria sido um chanceler a serviço de oligarquias cafeeiras perfeitamente coerentes, mas tampouco teria atuado contrariamente a elas. Rio Branco, dito de outra maneira, não tinha margem para opor-se a uma política externa do “café”, ou, ainda, ao americanismo característico da Primeira República, mas soube negociar com os atores domésticos – e internacionais, naturalmente -, de forma a alcançar o que era possível nos limites daquele momento.
Não por acaso, o americanismo do barão ganha nova interpretação com Villafañe. Não foi o posterior patrono da diplomacia brasileira o primeiro a entabular a virada americanista, que veio com a Proclamação da República. Na mesma lógica dos constrangimentos estruturais, o plano internacional da análise biográfica ganha expressão, e a opção americanista é percebida em uma via de mão de dupla, porém assimétrica. Dada a dependência do setor cafeeiro em relação ao mercado americano – que, de resto, explica pelo menos em grande parte a insistência dos republicanos, já em 1889, pela aproximação com Washington -, a potência então ainda emergente do Norte vislumbrava no Brasil um espaço hemisférico singular para aprofundar sua corrida industrial. Ao chegar à chancelaria, o barão não rompeu com um americanismo alegadamente ingênuo dos primeiros tempos republicanos, mas o aprofundou e o matizou nos limites das estruturas internas e externas. Não há, dessa forma, oposição entre o que haveria sido pejorativamente ideológico e, com o barão, positivamente pragmático, mas uma reinterpretação que enxergava em Washington, a um só tempo, um incontornável espaço comercial e uma garantia para a segurança nacional.
Na leitura de Villafañe, o barão dava compreensão hierárquica às relações hemisféricas, e quanto a isso a proximidade com os Estados Unidos não poderia senão beneficiar o Brasil em suas rivalidades regionais, especialmente com a Argentina. Particularmente importantes, na tônica de aproximação, teriam sido as Conferências Pan-americanas do Rio de Janeiro (1906) e de Buenos Aires (1910). Na primeira – não à toa realizada no Palácio Monroe, que se erguia para a ocasião -, o Itamaraty encarregou-se de assinalar aos vizinhos do Brasil uma hipotética e irremediável aliança com os Estados Unidos; na segunda, o barão sugeriu, sem concretizá-lo, um endosso continental à Doutrina Monroe, também como forma de assinalar postura amigável em relação a Washington em um tempo de intensificação, embora relativa, das relações dos Estados Unidos com a Argentina. Malgrado ajustes interpretativos possíveis, conforme se discutirá mais adiante, Villafañe analisa acertadamente os episódios em um quadro de relações não lineares entre Washington e Rio de Janeiro, permeadas por tensões e, sobretudo, pautadas por uma assimetria favorável aos Estados Unidos.
A suposta aliança não escrita com os Estados Unidos cai então rapidamente por terra. A ideia original era de Bradford Burns e foi desenvolvida em contexto histórico de franco interesse brasileiro por uma aproximação irrestrita com Washington (Burns, 1966). Burns, oriundo da Universidade de Califórnia, veio ao Brasil logo após o golpe civil-militar de 1964 e contou com decidido apoio das autoridades nacionais, chegando inclusive a ser condecorado com a Ordem de Rio Branco. A proposta interpretativa, que emoldurava as relações entre o Brasil e os Estados Unidos em um quadro róseo, não se dispôs a elucidar do ponto de vista teórico o sentido de uma aliança não escrita, constituindo-se, pois, em uma seleção de eventos históricos que legitimariam os laços atávicos entre os dois países. Villafañe refuta a interpretação, incluindo na análise momentos de rispidez entre o Brasil e os Estados Unidos tanto no plano bilateral – a exemplo das tensões alfandegárias – quanto no multilateral, à luz do cisma produzido na II Conferência de Paz da Haia (1907).
Integrando a sua análise, então, os momentos difíceis com os Estados Unidos, Villafañe entende que o pensamento diplomático do barão se constituía no tabuleiro complexo das relações internacionais do Brasil. Essa complexidade expressou-se, singular mas não unicamente, nas disputas lindeiras em que Rio Branco esteve envolvido – todas, praticamente, entre 1895 e 1909. Em outras palavras, e aportando documentos novos, como o tratado secreto de aliança militar com o Equador contra o Peru no caso antes referido, Villafañe interpreta as questões de fronteira, incorporando interesses cruzados de Estados direta ou indiretamente envolvidos nas disputas. Os exemplos do Amapá e do Pirara são emblemáticos nesse sentido. No primeiro caso, o litígio entre o Brasil e a França revelou-se bilateral apenas na medida da fronteira contestada e do laudo arbitral. Considerando as tensões sistêmicas próprias à era dos impérios (1870-1914), Villafañe sugere um barão atento às possibilidades de tirar proveito das rivalidades entre a França e a Inglaterra quanto às ambições territoriais desses Estados na América do Sul. O padrão interpretativo, que, em uma adaptação temporal, poderia significar, pelo menos parcialmente, a interdependência complexa de Robert Keohane e Joseph Nye (1977), vale também para o caso da Bolívia – conforme apresentado – e para o britânico; quanto ao último, teriam por demais pesado nos insucessos brasileiros na disputa pelo Pirara as pressões de Londres para que o rei da Itália, anglófilo de pulmão cheio por questões territoriais na África, fosse indicado o árbitro contra o Rio de Janeiro.
Metodologicamente rica e coerente – porque alia a nova história política às novas maneiras de biografar -, a obra de Villafañe tem tudo para demover aquela que, até agora, tinha sido a principal biografia do barão: a de Álvaro Lins. Não obstante, e da perspectiva de uma crítica interpretativa, alguns episódios poderiam estar mais aprofundados, inclusive para que o sentido geral das principais contribuições historiográficas ganhe expressividade. Penso particularmente, neste espaço restrito próprio às resenhas, em dois momentos e em uma caracterização. No que se refere ao primeiro momento, e na mesma trama dos interesses cruzados, há poucos comentários sobre o discurso de encerramento do barão na III Conferência Pan-Americana do Rio de Janeiro. Disse ele, ao concluir sua fala: “aos países da Europa, a que sempre nos ligaram e hão de ligar tantos laços morais e tantos interesses econômicos, só desejamos continuar a oferecer as mesmas garantias que lhes tem dado até hoje o nosso constante amor à ordem e ao progresso”.1 Em uma interpretação possível e, ao mesmo tempo, ancorada nos múltiplos tabuleiros do barão, a referência à Europa em plena conferência pan-americana poderia dar-se como sinal de contrapeso a ações imperialistas que também poderiam vir dos Estados Unidos.
O segundo momento que nos interessa, a modo de crítica, diz respeito à IV Conferência Pan-Americana de Buenos Aires. Na leitura de Villafañe, o endosso do barão à Doutrina Monroe teria origem em sua visão de mundo, segundo a qual “o poder de polícia dos Estados Unidos sobre os países instáveis do continente era não somente justificado como desejável” (Santos, 2018, p. 455). Em uma interpretação alternativa, que Villafañe descarta, a posição de Rio Branco seria uma tentativa de multilateralizar a Doutrina Monroe, de forma a ponderar, no continente, sua aplicação (Fonseca Jr., 2012). Parece-me difícil encontrar nos arquivos documento que ratifique a última interpretação; no entanto, julgo-a mais coerente com o pensamento diplomático do barão. Em outros termos, e reciprocamente ao discurso de encerramento na III Conferência, o americanismo do barão expressava-se, embora não exclusivamente, como mecanismo de compensação ao imperialismo europeu. Da mesma forma, a tentativa de construir um triângulo de paz na América do Sul – constituído pela Argentina, pelo Brasil e pelo Chile – também poderia ser vislumbrada como freio político ao vizinho do Norte. Ou, para usar a teoria das relações internacionais, como um instrumento de balancing.
Por último, refiro-me à caracterização de Rio Branco como um saquarema no Itamaraty. O termo saquarema, menos usual do que o contrário nas fontes primárias, serviu a Ilmar Rohloff de Mattos para designar não apenas o partido conservador, sobretudo nas décadas de 1840 e de 1850, mas também as dimensões sociais e culturais do tipo de Estado que esse mesmo partido havia constituído (Mattos, 1987). Filho de um conservador da segunda geração, o barão talvez tenha carregado, ainda que como contradição, o espírito saquarema que marcou sua formação intelectual. A doutrina do uti possidetis e a das fronteiras naturais, embora de origem colonial, serviram aos saquaremas do Império e ao barão também nos primórdios da República. No entanto, a segunda década republicana em pouco se pareceu ao tempo da direção saquarema (1848-1853), outra expressão de Mattos. O Brasil não tinha sequer a sombra da hegemonia que gozara no Prata; o principal eixo econômico do país havia-se deslocado para São Paulo; a mão de obra não era mais cativa; o Brasil agia multilateralmente, o que o Império abominava; e Washington tomava o posto de Londres. Certo é que o hipotético espírito saquarema do barão poderia emergir fora de seu tempo, mas tampouco é o que nos conta, no fundo, Villafañe. Pelo contrário, e acertadamente, Rio Branco figura em Villafañe como um homem de seu tempo, fazendo história nos limites estruturais do que era então possível.
Saquarema ou, quiçá, republicano malgré lui, o Rio Branco que emerge de Villafañe é, antes de mais nada, um convite aberto ao estudo da história da política externa brasileira. E isso em âmbito universitário, com o qual o autor dialoga, ou para o grande público, constante preocupação no texto agradável, bem-construído, imagético e articulado de Luís Cláudio Villafañe G. Santos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BURNS, Bradford. The unwritten alliance: Rio Branco and Brazilian-American relations. Nova York: Columbia University Press, 1966. [ Links ]
CARVALHO, Delgado de. História diplomática do Brasil. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1959. [ Links ]
CERVO, Amado Luiz; BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil. Brasília: Universidade de Brasília, 2008. [ Links ]
FONSECA-JR, Gelson. Rio Branco diante do monroísmo e do pan-americanismo: anotações. In: PEREIRA, Manoel Gomes(Org.). Barão do Rio Branco: 100 anos de memória. Brasília: Funag, 2012. [ Links ]
KEOHANE, Robert; NYE, Joseph S. Power and interdependence: world politics in transition. Boston: Little/Brown, 1977. [ Links ]
LINS, Álvaro. Rio Branco. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1945. [ Links ]
MATTOS, Ilmar Rohloff. O tempo saquarema. São Paulo: Hucitec, 1987. [ Links ]
POULANTZAS, Nicos. Pouvoir politique et classes sociales de l’État capitaliste. Paris: François Maspero, 1968. [ Links ]
RICUPERO, Rubens. Barón de Rio Branco. Buenos Aires: Nueva Mayoría, 2000. [ Links ]
RICUPERO, Rubens. A diplomacia na construção do Brasil. Rio de Janeiro: Versal Editores, 2017. [ Links ]
VIANA FILHO, Luís. A vida do barão do Rio Branco. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 1959. [ Links ]
Menção em artigo na Folha de São Paulo
Folha de São Paulo
3 de maio de 2019
Cláudia Costin
A lógica da tribo e o risco do populismo
Em tempos de polarização, parece ser relevante quem devemos odiar
A insegurança que o exercício da escolha pessoal traz nos leva muitas vezes a recorrer à lógica do pensamento em grupo. Precisamos saber como nossos “iguais” pensam, antes de expor uma opinião.
Como diria Yuval Harari, necessito dominar a narrativa sancionada pela minha tribo, num processo de abdicação da liberdade individual que me obriga a reproduzir modelos simplificadores da realidade endossados por líderes consagrados.
Nesse contexto, em tempos de polarização, a informação relevante parece ser a quem devemos odiar. Definido o alvo, é inaceitável ouvir, com suspensão inicial de crítica, a quem desconfio que apoia o receptor do meu ódio.
Ouvimos ou lemos postagens em redes sociais e artigos apenas com a finalidade de encontrar o que precisa ser rapidamente repudiado.
Mas esse fenômeno não é recente, nem mesmo no Brasil.
Na brilhante biografia do Barão do Rio Branco, de Luís Cláudio Villafañe G. Santos, a polarização ali retratada se exprimia de outras formas, como a desqualificação de Juca Paranhos, anteriormente monarquista, por parte de alguns de seus antigos correligionários, que não teriam aceitado vê-lo trabalhando para a República.
O mesmo ocorreu com republicanos de primeira hora que, durante as negociações com os governos boliviano e peruano, em torno da questão do Acre, não o aceitavam como suficientemente confiável, dada sua origem saquarema.
O mundo vive de narrativas e é quase impossível viver em sociedade sem elas. O problema começa quando elas nos impedem de pensar ou de fazer uma avaliação mais precisa e, portanto, complexa, da realidade.
Com a velocidade das comunicações nos dias de hoje, torna-se premente contar com um esquema simplificador e abrangente que permita decodificar a fala oficial da tribo a que nos afiliamos, para poder rapidamente reagir com ódio ao inimigo percebido.
Isso com certeza não ajuda o país a navegar nos tempos incertos que vivemos. A cultura do ódio é própria de quem não acompanha a história e estará assim fadado a repetir os inúmeros erros já cometidos.
A falta de pensamento complexo, crítico e sistémico, próprio do campo da filosofia leva-nos a leituras apressadas dos eventos, a não perceber os profundos riscos que corremos e até a não aproveitar oportunidades que a vida nos oferece.
E é desse material que o populismo se alimenta.
Quando a população quer ouvir soluções simplistas e se une em tribos que consomem teorias conspiratórias, o caminho está aberto para que políticos falem com as pessoas como se elas tivessem 12 anos de idade. E o populismo é sempre ruim, tanto faz se de direita ou de esquerda.
***
Novo artigo de Roberto Pompeu de Toledo na Veja
O fã e o ídolo
Publicado em VEJA de 27 de março de 2019, edição nº 2627
Na carta em que convidou o barão do Rio Branco para ser seu chanceler, o então presidente eleito Rodrigues Alves argumentou: “A pasta do Exterior não pode estar subordinada a influências partidárias, mas convém que seja prestigiada com um nome de valor, que inspire confiança à opinião pública, impedindo que ela se apaixone ou se desvaire”. “Pasta do Exterior”equivale no caso a “política exterior”. A visita do presidente Jair Bolsonaro a Washington esteve distante do conceito de Rodrigues Alves. Poucas vezes se viu conferência de cúpula tão partidária. Duas facções, não dois Estados, reuniram-se e, mais do que negociar, confraternizaram.
Releve-se que, nos acordos anunciados, o Brasil tenha trocado concessões concretas por meras promessas. A marca do encontro foram as manifestações de deslumbramento, raiando a sabujice, da parte brasileira. “Sempre fui um grande admirador dos Estados Unidos, e essa admiração aumentou com a chegada de Vossa Excelência à Presidência”, disse Bolsonaro, na Casa Branca. Mais adiante, quando um repórter lhe perguntou como ficaria se o Partido Democrata ganhasse a próxima eleição, respondeu que acreditava “piamente” na vitória de Trump. Nos movimentos corporais ao lado do anfitrião, o presidente brasileiro traía o embevecimento do fã diante do ídolo.
Estreitar a relação com os Estados Unidos é medida oportuna, depois das empreitadas terceiro-mundistas e bolivarianas do PT, mas não se precisava chegar a tanto. O embevecimento desceu a perigosa vassalagem quando Bolsonaro, duas vezes, ao ser confrontado a respeito, deixou no ar que o Brasil poderia acompanhar Trump numa intervenção militar na Venezuela. O modo de fazê-lo foi dizer não dizendo; argumentou que não podia revelar o combinado com Trump porque significaria revelar a “estratégia”.
A marca do encontro com Trump foi o deslumbramento da parte brasileira
Ao barão do Rio Branco é atribuído o início da aliança não escrita que, com intervalos, teria caracterizado a relação Brasil-EUA. Luís Cláudio Villafañe G. Santos, autor da recente biografia Juca Paranhos, o Barão do Rio Branco, explica que o patrono da diplomacia brasileira via nos EUA um fator de dissuasão de eventuais pretensões europeias na América do Sul. Não esquecer que, na época, as Guianas francesa e inglesa assinalavam a presença de duas potências do Velho Mundo em nossa fronteira norte. Em 1906 Rio Branco recebeu no Rio, com honras, o secretário de Estado Elihu Root, para a III Conferência Pan-Americana (foi a primeira missão de um secretário de Estado no exterior). O embaixador brasileiro em Washington, Joaquim Nabuco, instou Rio Branco a, em retribuição, visitar Washington. O barão recusou. “Não penso que tenhamos o dever de retribuir uma visita feita (…) no interesse do desenvolvimento da influência americana, e não por atenção ao Brasil”, respondeu.
O encontro na Casa Branca teve como aperitivo uma recepção na embaixada brasileira a personalidades direitistas de ambos os países. Além de Bolsonaro e ministros, marcaram presença Steve Bannon e Olavo de Carvalho. O primeiro, ex-assessor e formulador-chefe do pensamento trumpista; o segundo, guru e formulador-chefe do bolsonarismo. Esses dois são um perigo. Fazem guerra à China, restringindo-se por enquanto, mas só por enquanto, a incentivá-la no plano comercial. Ao Brasil sobraria renunciar a vendas de mais de 60 bilhões de dólares no ano passado (contra menos de 30 bilhões aos EUA) — risco de que nos salvou (por enquanto) Paulo Guedes. Disse ele a empresários que, na valsa do comércio, quer dançar com os americanos mas também com a China (“E ela dança bem”, acrescentou). Desamparado do ministro da Economia, não há garantias de que Bolsonaro resistiria a um apertão, como nas perguntas sobre a Venezuela.
Falta mencionar os filhos do presidente. Olavo de Carvalho e os filhos, um de longe, no papel do oráculo de Richmond, os outros de perto, na mesa ou no cangote do pai, constituem a faceta mais bizarra do atual governo. Olavo na véspera havia dito que não confia no governo e chamado o vice Hamilton Mourão de “imbecil”. No entanto lá estava, inteiro e festejado, na celebração direitista da embaixada. Os filhos provocaram suas próprias devastações. Eduardo, o mais novo, ao participar da reunião a portas fechadas no Salão Oval, demitiu simbolicamente o chanceler Eduardo Araújo. Carlos, o do meio, ao bandear-se para Brasília quando o pai viajou, com o fim declarado de “desenvolver linhas de produção (sic) solicitadas pelo presidente”, demitiu o general Mourão. E la nave va.
Publicado em VEJA de 27 de março de 2019, edição nº 2627
Artigo de Roberto Pompeu de Toledo na revista VEJA
Juca Paranhos, o barão do Rio Branco- artigo de Roberto Pompeu de Toledo na revista VEJA
Uma fábula
Roberto Pompeu de Toledo
VEJA, 30 de janeiro de 2019, edição nº 2619
Em 17 de abril de 1910 entrou festivamente na Baía de Guanabara, vindo dos estaleiros da Inglaterra, o encouraçado Minas Gerais, navio da classe dreadnought, o que havia de mais avançado na época, e sua chegada desencadeou uma onda de patriotismo. Para o jornal O País, o “vulto de aço” da embarcação simbolizava “o Brasil novo, opulento e poderoso que vai na rota de progresso e civilização”. Para a Gazeta de Notícias, incumbiria ao Minas Gerais, “pedaço flutuante da pátria”, levar pelos mares “a força afirmativa da nossa cultura, da nossa grandeza e da nossa civilização”. Contada no recém-lançado Juca Paranhos, o Barão do Rio Branco, exemplar biografia do patrono da diplomacia brasileira escrita por Luís Cláudio Villafañe G. Santos, a história iniciada com a chegada da portentosa embarcação desdobra-se em dois atos e encerra-se como uma fábula.
A causa do reaparelhamento da Marinha brasileira teve em Rio Branco seu mais ardente defensor. A seu ver, tratava-se de contraponto indispensável ao laborioso quebra-cabeça com que negociava nossas fronteiras e toureava as rivalidades e desconfianças com os vizinhos. O governo brasileiro decidiu jogar alto, e optou por encomendar logo três dreadnoughts, a nova maravilha dos mares, lançada em 1906 pela Inglaterra. Em especial, naqueles anos, preocupavam a superioridade militar da Argentina e as pretensões do Peru a nacos do território brasileiro. Por questão de custo, a encomenda foi reduzida a dois, mas ainda assim causava furor. À chegada do Minas Gerais, o primeiro deles, as celebrações incluíram uma canção que aproveitava a melodia da italiana Vieni sul Mar, para honrar o navio com o estribilho, “Oh, Minas Gerais”. (Com letra modificada, em anos posteriores a canção passaria a celebrar o Estado de Minas Gerais.)
O segundo dreadnought, batizado São Paulo, chegou em outubro, bem a tempo de ser incluído no elenco no ato 2 da nossa fábula. Em 22 de novembro, aproveitando-se da ausência do comandante, João Batista das Neves, que saíra para jantar num navio francês em visita ao Rio, a tripulação do Minas Gerais apoderou-se do navio. Ao voltar a bordo, Neves foi saudado aos gritos de “Abaixo a chibata” e morto ao tentar uma reação.
Os navios iam e vinham, exibindo as bandeiras vermelhas da insurgência
A insubordinação dos marinheiros, remoída por anos, explodira ao impacto das 250 chibatadas aplicadas na antevéspera a um companheiro. A Revolta da Chibata espalhou-se por outros cinco navios estacionados na Baía de Guanabara. A fina flor da Armada brasileira passara às mãos da chucra marujada, sob o comando de João Cândido, o “Almirante Negro”, como seria apelidado.
Que fazer? Os navios iam e vinham nas águas da baía exibindo as bandeiras vermelhas da insurgência. O governo manteve-se pasmo e paralisado até o dia 25, quando se decidiu pelo ataque aos rebeldes. “Rio Branco se desesperou”, escreve Villafañe Santos. “Assustava-o a perspectiva de ver os principais navios da Armada brasileira destruídos e, em consequência, o Brasil, outra vez, em total inferioridade de meios militares frente a seus vizinhos.” O chanceler chegou a procurar o oficial encarregado do ataque, na tentativa de dissuadi-lo. Afinal, o destino inglório de ver os dreadnoughts, tinindo de novos, arrasados pelas próprias forças a que deviam integrar-se foi evitado depois de negociações no Congresso que incluíram, no dia 26, a promessa de anistia aos revoltosos.
A promessa não foi cumprida. Dois dias depois a repressão já começava a baixar sem piedade contra os amotinados — mas essa é outra história. Interessa-nos o contraste entre o sonho de potência de abril de 1910, à chegada do Minas Gerais, e a realidade de uma Marinha que tratava os marujos a chibatadas, exposta em novembro. “O episódio conta muito sobre a ilusão de modernidade e prosperidade de um país no qual pouco mais de um par de décadas antes a posse de outros seres humanos era legalizada e cuja economia se baseava na exportação de uns poucos produtos agrícolas”, escreve o autor do livro. A frustração bateu forte em Rio Branco. Um contemporâneo, Carlos de Laet, data daí a decadência física que o levaria à morte, um ano e dois meses depois.
Outras histórias oferecem morais já prontas à fábula que poderia ter por título “O dreadnought e a chibata”. O rei estava nu, caberia dizer, ou: o ídolo tinha pés de barro. Formulemos a nossa própria moral. Brincar de “Brasil novo, opulento e poderoso”, orgulhoso “da nossa cultura, da nossa grandeza e da nossa civilização” (para repetir os arroubos ufanistas na chegada do Minas Gerais), só vale quando se traz o povo junto.
Publicado em VEJA de 30 de janeiro de 2019, edição nº 2619
RESENHA NO JORNAL VALOR ECONÔMICO
Matéria no jornal Valor Econômico, 10 de janeiro de 2019
DINHEIRO HAJA, SENHOR BARÃO
Por Matías Molina
Dom Pedro d’Alcântara, o antigo imperador dom Pedro II, morreu no exílio em Paris na madrugada de 5 de dezembro de 1891. O “Jornal do Brazil” publicou a notícia com grande destaque no dia seguinte, mas sem indicar o nome do autor.
Décadas mais tarde, no suplemento especial que comemorava seu 70o aniversário, o jornal revelou que a informação da morte de dom Pedro II, publicada em primeira mão, fora enviada de Paris, por telegrama, pelo correspondente, Ferdinand Hex. O que o suplemento não disse é que esse era um os pseudônimos do Barão do Rio Branco. E a afirmação de ter dado a notícia “em primeira mão” é exagerada; foi publicada por todos os diários; no “Jornal do Commercio” de maneira mais precisa e com mais detalhes.
Na época José Maria (“Juca”) da Silva Paranhos Júnior, barão do Rio Branco, diplomata sediado em Paris, estava intimamente ligado ao “Jornal do Brasil”, lançado em abril desse mesmo ano de 1891 por seu amigo Rodolpho Dantas, antigo ministro e conselheiro do império, que queria fazer uma publicação de alto nível, no modelo do “The Times” de Londres e “Le Temps” de Paris; Joaquim Nabuco foi o redator-chefe. Seria um jornal feito por monarquistas, mas moderado e tolerante com a República.
Rio Branco, além de escrever com seu nome a série “Efemérides Brasileiras”, e sobre outros assuntos com vários pseudônimos, participou do projeto do jornal e montou e coordenou uma rede de correspondentes e de notáveis colaboradores na Europa. Rodolpho Dantas chegou a oferecer-lhe participação na sociedade. Mas dias depois da edição sobre a morte de dom Pedro, a multidão enfurecida invadiu o jornal aos gritos de “Mata! Mata! Nabuco!”. O ministro da Justiça disse que não poderia garantir a vida de jornalistas monarquistas. Dantas e Nabuco viajaram imediatamente para a Europa. Terminou, assim, a primeira fase do jornal e uma importante etapa das relações de Rio Branco com a imprensa.
O Barão, como era conhecido, marcaria a diplomacia brasileira. Fez acordos de fronteira com os países vizinhos definindo os limites do Brasil. Escreve Luís Cláudio Villafañe Gomes Santos, autor da obra “Juca Paranhos, o barão do Rio Branco”, que criou uma personagem popular e atraente. Álvaro Lins diz com algum exagero que “conseguiu ser amado pelo povo como talvez nenhum outro homem de Estado no Brasil”. Durante sua gestão, a política externa foi debatida no país com intensidade nunca vista nem antes nem depois.
Álvaro Lins e Luiz Vianna Filho escreveram notáveis biografias de Rio Branco. A recente obra do diplomata e historiador Villafañe G. Santos é das mais completas já publicadas sobre o Barão, a quem já tinha dedicado livros e ensaios, e é certamente a que melhor retrata suas relações com a imprensa, foco desta resenha.

Para conseguir seus objetivos na diplomacia, Rio Branco recorreu à imprensa, dentro e fora do Brasil. Não apenas com uma prodigiosa produção de artigos e ensaios, como também orientando, persuadindo e comprando sua opinião. Ele percebeu a importância da informação e da opinião pública, quis orientá-la de acordo com sua visão dos interesses do país e não duvidou em recorrer aos cofres públicos para pagar jornais e jornalistas e neutralizar as criticas de oposição.
Como lembrou o economista Eugênio Gudin: “Vi, contudo, mais de uma vez o barão do Rio Branco sair a pé do restaurante Brahma depois de jantar e subir as escadas do ‘Jornal’ (do Commercio), à esquina da rua do Ouvidor, para redigir ou retocar essa ou aquela notícia. Rio Branco dava muita importância à publicidade, conquanto não em proveito próprio. Não hesitava, porém, em gastar, mesmo na imprensa europeia, quando julgava oportuno elevar o conceito do Brasil. Desse e de outros saiu o refrão ‘Dinheiro haja, senhor Barão’, atribuído ao grande presidente Rodrigues Alves”.
O refrão “E… dinheiro haja!” foi utilizado pela imprensa com referência a Rio Branco. O escritor Danton Jobim corrobora esse hábito: “Quem ignora que o grande homem de Estado (Rio Branco) não alimentava o menor escrúpulo em utilizar-se do recurso da subvenção a influentes jornalistas estrangeiros sempre que o aconselha-se o interesse do país?”. Jobim reconhece que “Dinheiro haja” era a alusão obrigatória “aos gastos excessivos com que, segundo a voz corrente, o Barão alimentava sua diplomacia”. Jobim afirma que ele nunca precisou subvencionar jornais brasileiros. Na verdade, foi pródigo e generoso com a imprensa do país.
Se não fosse diplomata, o Barão poderia ter sido historiador ou, mais provavelmente, jornalista. No começo, ele seguiu os passos do pai, José Maria da Silva Paranhos, que foi redator dos jornais liberais “O Novo Tempo” e “Correio Mercantil. Sua coluna, na forma de cartas “Ao Amigo Ausente” no “Jornal do Commercio”, atraiu a atenção de Carneiro Leão, futuro marquês do Paraná, que o convidou para secretariar uma missão brasileira no Uruguai. Ele teria respondido: “Com vossa excelência iria até para o inferno”. Trocou assim o jornalismo pela diplomacia, as ideias liberais pelas conservadoras, recebeu o título de visconde de Ouro Preto (sic) e foi primeiro-ministro.
O jovem Juca Paranhos colaborou com revistas e jornais. Escreveu para a folha ultraconservadora “Vinte e Cinco de Março”, do Recife, de oposição ao governo liberal; foi coeditor, com Gusmão Lobo, do conservador “A Nação”, jornal bem escrito, com elegância de maneiras e seriedade nas discussões, segundo Álvaro Lins, em que comentava a política externa e iniciou a série de artigos “Efemérides Brasileiras”, que continuaria em outros jornais; participou do semanário ilustrado “A Vida Fluminense” com o pseudônimo de “Nemo” com artigos bem-humorados e até debochados sobre temas que iam da política ao Carnaval e a boêmia.
Instalou-se em Liverpool, com a ajuda do pai, como cônsul-geral do Brasil, o cargo mais bem remunerado da administração imperial. De Liverpool, o maior porto do mundo na época partiam os navios com as mercadorias que a Inglaterra exportava ao Brasil. O cônsul nessa cidade recebia uma participação sobre o valor das transações.
O Barão foi escolhido para chefiar a delegação brasileira na Exposição Internacional de São Petersburgo. Os artigos de seu amigo Gusmão Lobo no “Jornal do Commercio” ajudaram. Da Rússia, Rio Branco mandava notícias sobre o grande êxito do pavilhão brasileiro que Gusmão Lobo se encarregava de publicar no “Jornal do Commercio” e distribuir para os outros diários.
De Liverpool e de Paris, onde passou a morar, o Barão continuou colaborando com a imprensa. Escrevia sobre o Brasil para jornais europeus e sobre a Europa para o “Jornal do Commercio”, em cuja orientação procurava influir. Era amigo do seu diretor, Francisco Antônio Picot, a quem dizia: “Conheço por dentro e por fora o seu jornal”.
Em 1902, depois de 26 anos no exterior, o Barão voltou ao Brasil, convidado para o Ministério das Relações Exteriores pelo presidente Rodrigues Alves. Durante as negociações com a Bolívia, para resolver a difícil Questão do Acre, que aumentaria a extensão do Brasil em cerca de 190 mil km2, ele precisava do apoio da opinião pública, mas foi atacado com chocante violência por uma parte da imprensa. Recorreu às arcas do Tesouro.
Seu principal aliado foi o “Jornal do Commercio”, do qual se aproximara de novo depois que deixou de colaborar com o “Jornal do Brazil”. O “Jornal” era o diário mais influente do país. Tinha sido comprado, depois da proclamação da República, por um grupo de investidores liderado por seu amigo José Carlos Rodrigues. O Barão orientava a opinião do “Jornal” sobre assuntos internacionais, inspirando ou escrevendo “Várias” – editoriais – sobre política externa. E lhe passava informações exclusivas; as folhas concorrentes recebiam notícias do governo através do “Jornal do Commercio”, que agia como um porta-voz semioficial.
O Barão conseguiu controlar a opinião de quase toda a imprensa. Uma exceção foi o “Correio da Manhã”, o mais violento e persistente jornal de oposição a todos os governos, de quem recebeu contínuas investidas. Seus artigos eram reproduzidos em outros jornais nas seções pagas de “A Pedidos”. Os mais virulentos ataques partiram de seu diretor e proprietário, Edmundo Bittencourt, e do redator-chefe, Pedro Leão Velloso Filho, que assinava “Gil Vidal”. O “Correio” combateu todos os acordos de fronteiras feitos pelo Barão.
Um diário que apoiava com entusiasmo a política externa, desde que fosse bem pago, foi “O Paiz”, de João Lage, um dos jornais mais venais da história da imprensa brasileira. Numa carta, escreveu ao Barão: “De acordo com os desejos de V. Exa. fiz inserir na folha de hoje o artigo em resposta ao ‘Correio da Manhã’”. Alcindo Guanabara, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, era um voraz devorador de subsídios.
Rio Branco também combinava a divulgação de notícias com a Havas, na prática a única agência que informava sobre o Brasil no exterior e tinha um virtual monopólio da informação internacional que chegava ao país. Orientava também a opinião de alguns jornais na França.
Na polêmica, os jornais chegaram aos insultos. Bittencourt, do Correio adverte a Rio Branco: “pode s. ex. ficar certo de que há de sair daqui corrido, apedrejado” e o acusa, falsamente, de querer restaurar a monarquia.
Para o “Correio”, “O Paiz” era dirigido por dois “meliantes”, “portugueses renegados”, “perseguidos da polícia”; José Carlos Rodrigues, do “Jornal do Commercio”, era “falsário”, ladrão” que fugiu, “mercenário”. “O Paiz” respondia a Bittencourt: “capataz de mato”, “arruaceiro”, “improvisado e ignorantíssimo censor”, “advogado desconhecido e esfomeado”.
Subvenções e pagamentos à imprensa eram uma tradição arraigada desde a época do Império. Quando chefe do gabinete conservador, o visconde de Ouro Preto, pai do Barão (sic), explicou na Câmara que o governo não podia prescindir, em certos casos, dos órgãos de maior circulação, pois de outro modo a sua causa, que era também a causa do país, correria à revelia e os seus atos passariam desfigurados aos olhos de muitos. Confirmou que todos os ministros do Brasil tinham usado desse meio e mandado aos jornais artigos que explicavam e justificavam os seus atos; acrescentou que o gabinete de Zacarias de Vasconcellos também tinha declarado à Câmara que despendera “várias somas” com a publicação de artigos.
Segundo o jornal “O Commercio” de São Paulo, no Brasil a maioria da imprensa estava dividida em duas classes: a primeira gozava direta ou indiretamente dos benefícios do Tesouro, a segunda pretendia gozar deles.
Na República, os presidentes militares Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto não subvencionaram jornais; preferiram censurá-los ou fechá-los. Um presidente civil, Campos Salles, voltou a usar o dinheiro, e não a violência, para garantir a opinião dos jornais, hábito do qual o Barão seria useiro e vezeiro.
Neste livro, Villafañe G. Santos delineia com competência as relações do Barão com a imprensa e a negociação das fronteiras do Brasil. É uma obra bem escrita, fluente, fácil de ler, num estilo coloquial, mas que ocasionalmente pode parecer excessivo: “Era uma bomba. Ao identificar o nome da remetente, José Maria adivinhou que aquela carta (…) vinha recheada de recriminações e lhe despertaria emoções contraditórias”. Ou: “Entardecia e a noite prometia ser fresca…”. É uma técnica mais próxima do romance do que da história.
O livro se apoia em pesquisa sólida, mas há pequenos deslizes. O jornal “La Prensa” de Buenos Aires não era de Estanislao Zeballos, o adversário de Rio Branco nas negociações com a Argentina, mas da família Paz; Zeballos foi contratado como jornalista. No “Jornal do Commercio”, Rio Branco pai escreveu uma coluna de cartas “Ao Amigo Ausente”, não “Cartas a um Amigo Ausente”.
Mais surpreendente é a afirmação de que nos primeiros dias de 1907, Pedro Leão Velloso Filho, editor-chefe do “Correio da Manhã”, que fizera críticas contundentes e ataques pessoais a Rio Branco sob o pseudônimo “Gil Vidal”, sugere passar uma “esponja no passado” e pede emprego para seu filho. Nessa data, porém, Leão Velloso tinha deixado o “Correio”, fora eleito deputado e fundado o “Diário de Notícias”, jornal de vida curta.
O equívoco pode ser atribuído a uma distração do autor. Num longo ensaio sobre Rio Branco e a imprensa, publicado na revista da Academia Brasileira de Letras, muitas de cujas informações foram reproduzidas no livro atual, ele escreve que Leão Velloso já estava no “Diário de Notícias” quando pediu o emprego para o filho. Nesse mesmo ensaio, usa a grafia correta das “Cartas ao Amigo Ausente”.
Há algum episódio impreciso. A respeito da morte de dom Pedro, o autor menciona que em crônica no “Jornal do Brazil” de 22 de dezembro, Ferdinand Hex (pseudônimo de Rio Banco) afirma ter estado presente ao funeral e que em artigos posteriores deixou clara sua presença nas exéquias. Na edição do dia 6 de dezembro – não mencionada pelo autor – o jornal já publicara que Ferdinando (sic) Hex estava presente no momento em que dom Pedro morreu. No entanto, o “Jornal do Commercio” desse mesmo dia não cita o nome de Rio Branco ou de Hex entre as pessoas que estavam na câmara mortuária. Fica uma dúvida difícil de resolver.
O carioca Luís Edmundo escreveu que a “sopa à Leão Velloso”, um caldo espesso com cabeça de peixe e frutos do mar, uma espécie de bouillabaisse brasileira, ainda servida em alguns restaurantes do Rio e São Paulo, fora introduzida por Leão Velloso Filho, o “Gil Vidal” do “Correio da Manhã”. Villafañe Santos diz que o prato é uma contribuição de seu filho, Velloso Neto, à culinária nacional.
Ao ser introduzida a República, o monarquista Eduardo Prado, membro de uma tradicional família paulista, publicou na “Revista de Portugal”, dirigida por ser amigo Eça de Queiroz, seis artigos, de dezembro de 1889 a junho de 1890, nos quais atacava o novo regime, com o pseudônimo de Frederico de S. Foram editados em 1890 em forma de livro com o título, “Fastos da Ditadura Militar no Brasil”. Na opinião de Álvaro Lins:
“Não há, com efeito, na bibliografia brasileira, livro que tanta mereça sobreviver quanto Fastos da Ditadura Militar no Brasil. Representa um modelo pela elegância e vigor da forma panfletária, pela dialética da argumentação, pelo humor, pelos assombros de paixão e anseio de justiça, pela verdade que afirma sem indecisão ou temor”.
Segundo Villafañe Santos e os outros biógrafos, Rio Branco, amigo de Eduardo Prado, teria escrito ou inspirado parte da obra, que foi proibida no Brasil.
“Juca Paranhos, o barão do Rio Branco”
Luís Cláudio Villafañe G, Santos, Companhia das Letras, 559 págs., R$ 84,90
Entrevista para o Blog “Barão”, do curso Clio/Damásio
http://obarao.damasio.com.br/entrevista-com-o-historiador-e-diplomata-luis-claudio-villafane/
ENTREVISTA COM O EMBAIXADOR E HISTORIADOR LUÍS CLÁUDIO VILLAFAÑE

Prezadas e prezados,
Em setembro deste ano, foi lançado o livro “Juca Paranhos, O Barão do Rio Branco”, a mais recente biografia de José Maria da Silva Paranhos Júnior (1845-1912) – o patrono da diplomacia brasileira –, produzido pelo historiador e diplomata Luís Cláudio Villafañe G. Santos. A obra, que possui mais de 500 páginas, é resultado de uma extensa pesquisa realizada pelo autor, ao longo de mais de dez anos, e se difere bastante das biografias tradicionais. Isso porque além da notória atuação pública e do imenso legado do Barão para o pensamento diplomático brasileiro, o livro apresenta diversos detalhes da sua vida pessoal e, assim, traça um perfil mais realista desse grande personagem da nossa história.
No último dia 12 de dezembro, essa publicação inédita recebeu da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) o prêmio de melhor livro de 2018, na categoria Biografia/Autobiografia/Memória.
Além da nova biografia, Villafañe tem outros dois livros publicados sobre o Barão do Rio Branco – O Evangelho do Barão: Rio Branco e a identidade brasileira, de 2012, e O Dia em que Adiaram o Carnaval: política externa e a construção do Brasil, de 2010. Ademais, o historiador já foi examinador da prova de História do Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD) e é autor de uma série de livros sobre a história da política externa brasileira, que são usados no Curso de Formação dos diplomatas brasileiros, no Instituto Rio Branco (IRBr). Atualmente, ocupa o posto de Embaixador e chefe da missão diplomática brasileira na Nicarágua.
Em virtude desta admirável bagagem, convidei o caríssimo Luís Cláudio para dois dedos de prosa sobre sua experiência como pesquisador, biógrafo e diplomata. Muito gentilmente, ele aceitou o convite e veio compartilhar conosco mais alguns aspectos e detalhes acerca do seu novo livro e também da sua trajetória no Ministério das Relações Exteriores, desde que ingressou na carreira até os dias de hoje. Vejam a conversa completa a seguir e façam proveito, meus caros!
Além da recém-lançada biografia do Barão, o senhor já publicou outros livros e diversos artigos sobre a vida e a carreira do patrono da nossa diplomacia. Como esse grande interesse no tema surgiu?
Luís Cláudio Villafañe – Na verdade, em 2010 lancei um livro sobre a relação entre a política externa e a construção da nação no caso brasileiro. O livro tinha uma proposta muito mais centrada em uma discussão teórica. Mas, por sua importância para a diplomacia e para a construção do discurso de política externa, a atuação de Rio Branco tem um papel incontornável nesse debate e acabei, inclusive, intitulando o livro “O Dia em que Adiaram o Carnaval”. O episódio, naquela época, estava meio esquecido e o livro ajudou a popularizar essa história dos dois carnavais de 1912.
A partir daí passei a ser solicitado a escrever mais sobre o Rio Branco e no ano do centenário da morte fui o curador da exposição oficial “Rio Branco: 100 anos de memória” e acabei por publicar, também em 2012, um pequeno ensaio sobre a obra do Rio Branco: “O Evangelho do Barão”.
O passo seguinte, uma biografia de fôlego, ainda que muito trabalhoso, foi em grande medida uma evolução natural.
Ao longo de dez anos pesquisando sobre o Barão do Rio Branco, qual foi a informação mais surpreendente desse período de pesquisa?
L. C. V. – O interessante dessa pesquisa – como em geral de todas pesquisas – é como sua visão vai mudando e sua perspectiva vai se sofisticando ao longo do processo. Na questão das relações com os Estados Unidos, por exemplo, parti de uma interpretação que era a moeda corrente, essa história da “aliança não escrita”, mas hoje possuo uma postura muito crítica a essa ideia.
A centralidade absoluta do Tratado de Petrópolis na obra diplomática de Rio Branco é outro exemplo. No “Juca Paranhos” fica claro que a negociação com o Peru foi duríssima e muito complicada e que a questão do Acre não pode ser analisada sem a compreensão da interligação das discussões de fronteira Brasil-Bolívia-Peru, tomadas como um conjunto e não apenas par a par.
Fatos curiosos e informações, senão inéditas, mas pelo menos esquecidas houve também muitos ao longo da pesquisa: o tratado secreto com o Equador, o “genro espião”, etc. Dei boas risadas em alguns casos.
Enfim, o “Juca Paranhos” é um livro inovador em muitas interpretações e muito rico em informações factuais, além de uma leitura divertida, pois traz histórias ótimas desse grande personagem que é o Barão.
Qual foi a sua principal motivação para escrever uma nova biografia do Barão?
L. C. V. – Como disse anteriormente, acabou sendo uma evolução natural das leituras e pesquisas que venho desenvolvendo. Estou sempre com algum livro em preparação e vários em projeto.
Na sua visão, qual foi a maior contribuição do Rio Branco para o desenvolvimento da política externa brasileira, que persiste até os dias de hoje?
L. C. V. – Rio Branco deu um conteúdo bem definido e estruturou o discurso de política externa no início da República. Seu sucesso fez com que muitos de seus sucessores até recentemente – e, em alguma medida, até hoje – usem a legitimidade que ele alcançou para justificar suas políticas, algumas inclusive que, se bem examinadas, nada tem a ver com as do Barão.
Porém, mais importante do meu ponto de vista, é a lição de que as saídas “fáceis” para questões de política externa podem ter repercussões imensamente deletérias e criar embaraços persistentes.
Veja o caso do Acre. Tomar o território militarmente ou impor uma solução humilhante para a Bolívia teria sido relativamente simples – e o Barão foi duramente atacado pelas concessões que fez. O resultado teria sido um contencioso que se arrastaria no tempo, com uma contaminação interminável das relações bilaterais. O Rio Branco acabou por compor uma solução com a Bolívia e o Peru que permitiu que não ficassem pendências políticas nem ressentimentos paralisadores.
Atualmente, o senhor ocupa o posto de Embaixador na Nicarágua. Qual a importância da América Central para a diplomacia brasileira?
L. C. V. – Todos os países americanos são, em alguma medida, importantes para o Brasil. Naturalmente, a América do Sul e as relações com os Estados Unidos são cruciais, mas tudo não deixa de ser um conjunto e em política externa as coisas não acontecessem isoladamente.
Quais são os principais desafios da política internacional contemporânea, e qual a responsabilidade do diplomata no enfrentamento dessas adversidades?
L. C. V. – A pergunta é excessivamente ampla. O mundo vive uma etapa de rápidas transformações tecnológicas, políticas, econômicas, etc. Os Estados continuam a ser o ator mais importante na gestão de muitos dos problemas que hoje afetam a todos e as diplomacias são o instrumento para se chegar a acordos, seja entre países bilateralmente, seja em nível global. A diplomacia hoje é mais importante do que nunca porque é através dela que os problemas globais se podem encaminhar e estes são maiores do que nunca.
Quando o senhor decidiu que seria diplomata? O que o motivou na época? E o que o motiva atualmente?
L. C. V. – Foi uma escolha um pouco arbitrária. Tinha estudado engenharia, geologia e estava cursando geografia. Depois que entrei para o Instituto Rio Branco fiz o mestrado e doutorado em história, além de uma pós em ciência política. A diplomacia acolhe bem pessoas com interesses diversos e é intelectualmente estimulante – e uma vida interessante, apesar (ou talvez por causa) de suas peculiaridades.
Qual foi o momento mais desafiador da sua carreira? E o mais compensador?
L. C. V. – O maior desafio é o momento em que vivo hoje, como Embaixador em um país que está passando por uma forte crise política, com centenas de mortos e milhares de feridos. A evolução da situação ainda é incerta, mas creio que a Nicarágua vive um momento histórico muito importante.
Se estivesse começando a estudar para o Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, qual conselho gostaria de receber?
L. C. V. – Ter tranquilidade, sem deixar de se dedicar aos estudos. Procurar, além de cobrir os pontos do extensíssimo programa, fazer boas leituras sobre qualquer tema. Ler é o melhor caminho para pensar, expressar-se e escrever bem. E, além de tudo, uma boa leitura é prazerosa.